"Centenas de povos indígenas e suas línguas habitam, cultivam e preservam o território multicultural do nosso país."
Entrevista: Macaé Evaristo
Entrevista: Macaé Evaristo
“A alegria é revolucionária”
Em defesa do direito à educação e da justiça social
“A alegria é revolucionária”
Em defesa do direito à educação e da justiça social
texto - Gina Vieira Ponte; ilustração - João Pinheiro
04 de setembro de 2024
Na Ponta do Lápis
Nascida em São Gonçalo do Pará, MG, Macaé Evaristo se insurgiu a todos os limites impostos às mulheres negras. Ela atuou como professora da educação básica, é graduada em serviço social e mestra em educação. Tendo o trabalho coletivo, a ação comunitária e a alegria como princípios inegociáveis, ela construiu uma trajetória orgânica e potente, que inclui ter sido a primeira mulher negra a se tornar secretária municipal e estadual de educação, ter exercido um mandato como vereadora por Belo Horizonte e hoje ser deputada pelo estado de Minas Gerais. Nesta entrevista Macaé compartilha parte da sua história e traz importantes considerações sobre a educação integral.

Deputada Federal
Macaé Evaristo
Como foi a trajetória de quatro décadas, de uma vida de luta em defesa do direito à educação pública de qualidade para todas e todos?
 Minha mãe era filha única, meus avós eram analfabetos e trabalhadores rurais. Minha avó lutou muito para que a minha mãe pudesse estudar, ela frequentou a escola rural na minha cidade no interior de Minas, depois na sede do município. Para fazer o curso de magistério de nível médio, ela estudou numa escola privada porque não tinha escola pública. Ela foi inicialmente recusada em algumas escolas da região porque era uma jovem negra. As escolas não aceitavam pessoas negras, mesmo com os meus avós podendo pagar os seus estudos. Minha mãe é professora primária, fez magistério, concurso público. O meu pai já tinha uma trajetória bem diferente, foi ex-combatente, nasceu em Belo Horizonte, foi para a guerra. Ele participou da primeira associação Negra em Belo Horizonte, que é a Associação Cultural José Marti. Ele escrevia e chegou a escrever para o Estado de Minas, era ativista. Eu vou nascer nessa família. Meus pais eram letrados, gostavam dos livros. E isso vai marcar muito a [minha] trajetória. Nós somos quatro filhas e minha mãe fez a opção de que todas deveriam estudar e ela dizia “a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, mas o que a gente pode deixar para as filhas é a educação”. Meu pai morreu muito jovem, eu tinha 10 anos, minha irmã caçula tinha um mês. Minha mãe vai ralar muito para não “dar as filhas”, porque ela recebeu esta proposta inúmeras vezes. As pessoas diziam que não tinha cabimento uma mulher negra do interior criar quatro filhas. Ela se recusava e falava “a gente pode passar a pão e água, água e fubá, mas nós vamos ficar todas juntas”. Eu fiz até o ensino médio na minha cidade. Eu me formei no final de 82, 83, fui muito bem classificada no concurso que eu fiz na prefeitura de Belo Horizonte, fui nomeada e vim morar em Belo Horizonte. Eu tenho essa história familiar que não é única. Eu conheço outras professoras negras que a família dava um valor importante à escolarização, como um projeto de vida, um projeto de futuro para nós construirmos outra história, porque a história das mulheres da geração da minha mãe e das minhas tias por parte de pai era de trabalhadoras domésticas, de mulheres que lavavam roupa. Chegar à capital foi muito importante. Aqui eu vou me encontrar com os movimentos sociais, o que eu não tinha muito no interior. Quando eu vim para Belo Horizonte, fui morar na casa de uma tia na Zona Norte, no bairro Primeiro de Maio, que é um bairro operário, e fui trabalhar no bairro Tupi. A região norte é uma região negra de Belo Horizonte, de menor IDH na década de 80, de extrema pobreza. Assim, muitas crianças que estudavam na minha escola passavam fome, a merenda escolar era a única alimentação do dia; as famílias dormiam na fila para poder conseguir uma vaga. Essa memória familiar de ver na educação a possibilidade de sair desse lugar da pobreza, da opressão, e ao mesmo tempo entrar na escola pública e olhar para aquelas crianças e me ver nelas vai me marcar muito. Eu vou me envolver no movimento da comunidade, participar da associação de bairro para lutar por posto de saúde, por água na comunidade, participar de mutirão no final de semana para ajudar as famílias a construírem suas casas. Estar junto com aquelas famílias foi o primeiro movimento. Só na década de 90, já cursando Serviço Social, que eu fui chamada para trabalhar numa escola que estava começando. Essa escola ficava no antigo prédio da Fafich1 e todas as crianças da periferia iam lá. Nós encontramos várias professoras e fomos numa escola da Vila Fátima que era a escola para atender os meninos do aglomerado da Serra, na época favela do Cafezal. A gente reuniu um grupo de professores e nós falamos assim “vamos fazer uma proposta diferente para essas crianças porque elas ficaram muito tempo sem escola” e eram crianças que tinham 10, 11 anos. Nesse coletivo de professores, começamos a pensar que a gente tinha que mudar a escola por dentro também. Nós fizemos uma aposta de construir um projeto pedagógico de não reprovar nenhuma criança. Íamos na comunidade quando os meninos começaram a faltar, fazíamos visita domiciliar, levávamos a turma inteira para visitar as crianças e falar “você está fazendo muita falta”. Era um currículo centrado na fala das crianças porque nós trabalhávamos com muita influência do Paulo Freire. Iniciamos com a ideia de temas de interesse e fomos avançando para projetos de trabalho. A gente organizava assembleias de turma e discutia todas as questões das crianças, da comunidade, das famílias e o currículo ia sendo construído a partir desses nossos encontros, dessas nossas articulações.
Minha mãe era filha única, meus avós eram analfabetos e trabalhadores rurais. Minha avó lutou muito para que a minha mãe pudesse estudar, ela frequentou a escola rural na minha cidade no interior de Minas, depois na sede do município. Para fazer o curso de magistério de nível médio, ela estudou numa escola privada porque não tinha escola pública. Ela foi inicialmente recusada em algumas escolas da região porque era uma jovem negra. As escolas não aceitavam pessoas negras, mesmo com os meus avós podendo pagar os seus estudos. Minha mãe é professora primária, fez magistério, concurso público. O meu pai já tinha uma trajetória bem diferente, foi ex-combatente, nasceu em Belo Horizonte, foi para a guerra. Ele participou da primeira associação Negra em Belo Horizonte, que é a Associação Cultural José Marti. Ele escrevia e chegou a escrever para o Estado de Minas, era ativista. Eu vou nascer nessa família. Meus pais eram letrados, gostavam dos livros. E isso vai marcar muito a [minha] trajetória. Nós somos quatro filhas e minha mãe fez a opção de que todas deveriam estudar e ela dizia “a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, mas o que a gente pode deixar para as filhas é a educação”. Meu pai morreu muito jovem, eu tinha 10 anos, minha irmã caçula tinha um mês. Minha mãe vai ralar muito para não “dar as filhas”, porque ela recebeu esta proposta inúmeras vezes. As pessoas diziam que não tinha cabimento uma mulher negra do interior criar quatro filhas. Ela se recusava e falava “a gente pode passar a pão e água, água e fubá, mas nós vamos ficar todas juntas”. Eu fiz até o ensino médio na minha cidade. Eu me formei no final de 82, 83, fui muito bem classificada no concurso que eu fiz na prefeitura de Belo Horizonte, fui nomeada e vim morar em Belo Horizonte. Eu tenho essa história familiar que não é única. Eu conheço outras professoras negras que a família dava um valor importante à escolarização, como um projeto de vida, um projeto de futuro para nós construirmos outra história, porque a história das mulheres da geração da minha mãe e das minhas tias por parte de pai era de trabalhadoras domésticas, de mulheres que lavavam roupa. Chegar à capital foi muito importante. Aqui eu vou me encontrar com os movimentos sociais, o que eu não tinha muito no interior. Quando eu vim para Belo Horizonte, fui morar na casa de uma tia na Zona Norte, no bairro Primeiro de Maio, que é um bairro operário, e fui trabalhar no bairro Tupi. A região norte é uma região negra de Belo Horizonte, de menor IDH na década de 80, de extrema pobreza. Assim, muitas crianças que estudavam na minha escola passavam fome, a merenda escolar era a única alimentação do dia; as famílias dormiam na fila para poder conseguir uma vaga. Essa memória familiar de ver na educação a possibilidade de sair desse lugar da pobreza, da opressão, e ao mesmo tempo entrar na escola pública e olhar para aquelas crianças e me ver nelas vai me marcar muito. Eu vou me envolver no movimento da comunidade, participar da associação de bairro para lutar por posto de saúde, por água na comunidade, participar de mutirão no final de semana para ajudar as famílias a construírem suas casas. Estar junto com aquelas famílias foi o primeiro movimento. Só na década de 90, já cursando Serviço Social, que eu fui chamada para trabalhar numa escola que estava começando. Essa escola ficava no antigo prédio da Fafich1 e todas as crianças da periferia iam lá. Nós encontramos várias professoras e fomos numa escola da Vila Fátima que era a escola para atender os meninos do aglomerado da Serra, na época favela do Cafezal. A gente reuniu um grupo de professores e nós falamos assim “vamos fazer uma proposta diferente para essas crianças porque elas ficaram muito tempo sem escola” e eram crianças que tinham 10, 11 anos. Nesse coletivo de professores, começamos a pensar que a gente tinha que mudar a escola por dentro também. Nós fizemos uma aposta de construir um projeto pedagógico de não reprovar nenhuma criança. Íamos na comunidade quando os meninos começaram a faltar, fazíamos visita domiciliar, levávamos a turma inteira para visitar as crianças e falar “você está fazendo muita falta”. Era um currículo centrado na fala das crianças porque nós trabalhávamos com muita influência do Paulo Freire. Iniciamos com a ideia de temas de interesse e fomos avançando para projetos de trabalho. A gente organizava assembleias de turma e discutia todas as questões das crianças, da comunidade, das famílias e o currículo ia sendo construído a partir desses nossos encontros, dessas nossas articulações.

Macaé Evaristo em marcha com os alunos da Escola Estadual Maria de Lourdes, pela igualdade racial. Belo Horizonte, novembro de 2023.
Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na experiência de propor essa visão que você trouxe de educação integral?
A experiência dessa escola vai acontecer quando nós ainda estamos sob a Lei 5.6922. É importante pensar como essa escola da Vila Fátima e outras em Belo Horizonte foram muito importantes para emergir uma política pedagógica em BH que foi a Escola Plural3, que antecede o debate da escola integral. A Escola Plural vai mapear essas experiências. Esse pensamento não é um pensamento construído de maneira individual, ele é um pensamento fruto de um processo coletivo de trabalho, de pensar em educação junto, desde a escola até quem está fazendo a gestão de toda a rede, de todo o sistema. Uma coisa que a Escola Plural vai nos ajudar a romper é com a lógica de série e de classes. Ela propõe que a gente pense os ciclos não como série, mas como tempos de idade de formação. Outro ensinamento que vem da Escola Plural, mas que a gente conseguiu radicalizar na experiência de educação integral que nós vivemos em Belo Horizonte, foi pensar a cidade como experiência educativa. Na Escola Plural, a gente começou fazendo o “Programa BH para as crianças”: como as crianças se apropriam da cidade? Como elas vão aos museus? Como elas frequentam uma sala de cinema? Como elas vão ao parque que é no centro da cidade se elas não têm acesso porque muitas vezes a nossa cidade é partida? Na nossa experiência de educação integral, a gente foi além porque nós fomos para dentro dos museus para construir uma proposta pedagógica para as crianças. Nós falávamos: “Se a cidade é uma escola, como a gente transita nessa cidade? Como a gente provoca outras políticas públicas à assistência, à cultura? Quem está pensando na arquitetura urbana para pensar uma cidade para as crianças, com as crianças, com os jovens?” Quando eu assumi a Secretaria de Educação, eu fiz uma aposta no diálogo. Nós fazíamos Fórum Família Escola e eu me reunia com os pais de colegiados e pais das escolas municipais. Em um mês eu me reunia, de forma centralizada, numa quadra, numa escola no centro de BH, e no outro mês eu ia nas nove regionais da cidade. Eu me reunia em uma escola regional e todos os pais de colegiado iam para aquela escola, a gente mobilizava transporte para as famílias irem. A nossa opção foi construir as creches e nós construímos as escolas municipais de educação infantil, um projeto muito bem sucedido em Belo Horizonte, reconhecidíssimo na cidade, e ao mesmo tempo nós estávamos fazendo ampliação do tempo com essa visão articulada com a cidade.
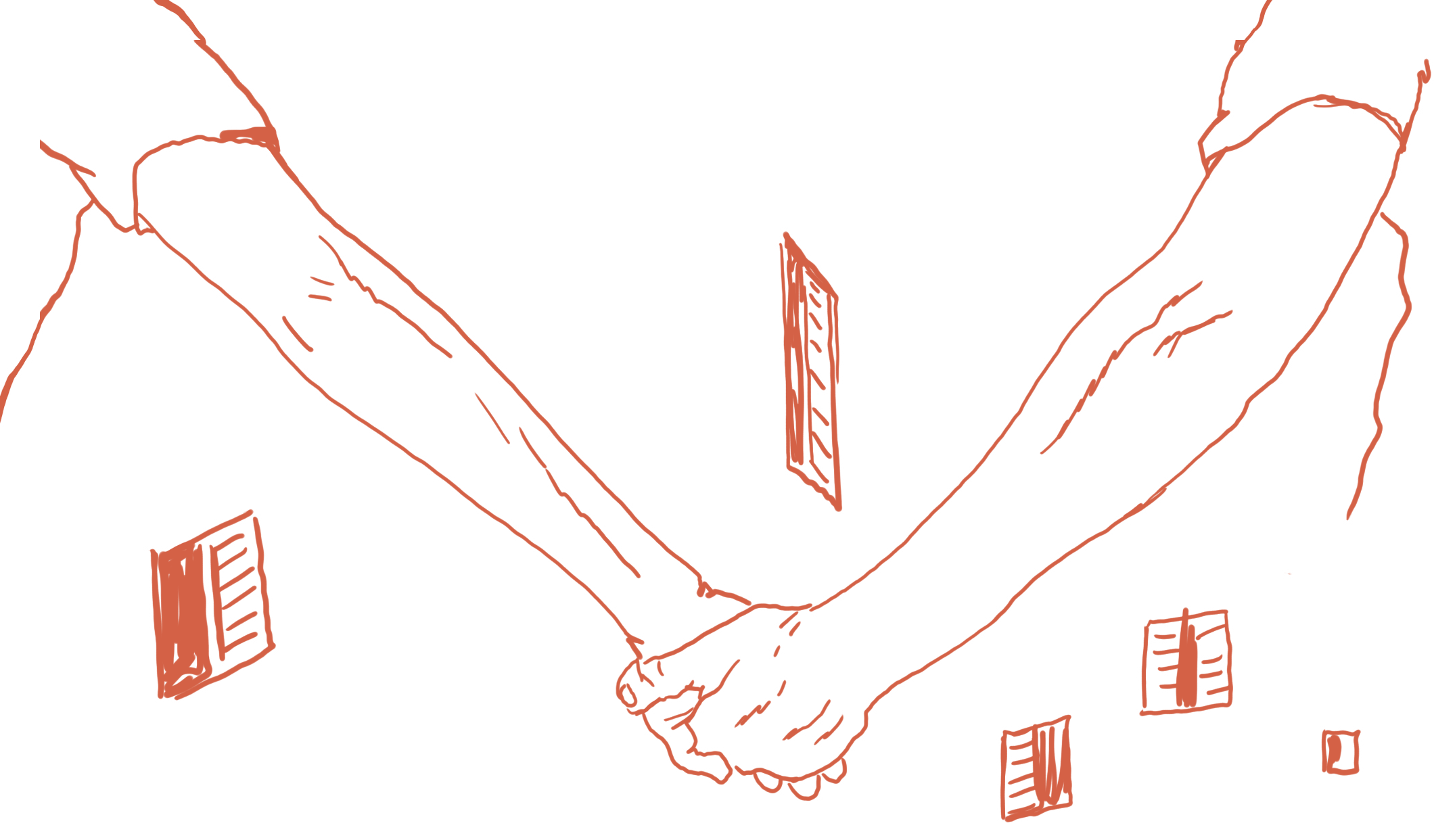 Você tem uma afirmação muito bonita que diz assim “a escola precisa reafirmar o direito à identidade, ao pertencimento étnico racial e ao princípio da representatividade”. Você acha que a gente avançou no que diz respeito à diversidade e aos direitos civis?
Você tem uma afirmação muito bonita que diz assim “a escola precisa reafirmar o direito à identidade, ao pertencimento étnico racial e ao princípio da representatividade”. Você acha que a gente avançou no que diz respeito à diversidade e aos direitos civis?
A educação no Brasil, pós Constituição de 88, vinha numa perspectiva ascendente, de ampliar o acesso à educação, de construir políticas para permanência dos estudantes, para avançar numa perspectiva de trajetórias bem sucedidas para as crianças, para os jovens, especialmente a juventude negra, a juventude favelada, a juventude empobrecida. Quando eu estava no MEC e aprovamos a lei de cotas, na sequência tivemos a maior procura pelo Enem que a gente viu no nosso país. Isso é muito potente porque o nosso país, ao longo do século XX, não garantiu o acesso à educação para todos. Só na década de noventa que a gente universalizou o acesso ao ensino fundamental, e só em 2016 a gente está chegando a universalizar o acesso para crianças de 4 e 5 anos e para os jovens de 15 a 17 anos. Isso incomodou setores mais conservadores da sociedade brasileira. Tanto incomodou que nós vimos como eles reagiram e a reação foi desqualificar a escola, desqualificar o professor, criar uma uma narrativa como, por exemplo, a Escola sem Partido, para não dizer que é uma escola de pensamento único. Não tem nada mais antidemocrático do que a gente pensar uma escola de pensamento único, porque na escola pública eles vão ter possibilidade de se encontrar na cena pública e contrapor seus argumentos, suas ideias. Essa é a essência da escola pública que eu acredito. Por trás desse discurso de uma escola de pensamento único, nós sofremos reiterados ataques à lei 10.639, que inclui o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares, ataques à inclusão de história e cultura das populações indígenas nos currículos escolares, que é a lei 11.645.
O que é mais precioso para a gente conseguir garantir que a educação se dê a partir dessa concepção de estudantes como sujeitos sócio-históricos e que têm direito a uma formação humana e integral?
O que a gente não pode perder de vista numa perspectiva de educação integral é que a docência tem que ter uma ação eminentemente coletiva. Paulo Freire fala que a gente vai humanizar na nossa relação com o aluno, na nossa relação com os colegas de trabalho. O trabalho coletivo proporciona um ambiente que nos permite criar. E a criação, como a arte, ela também nos alimenta e nos põe bem do ponto de vista da saúde mental. A gente não é só um processo de repetição.
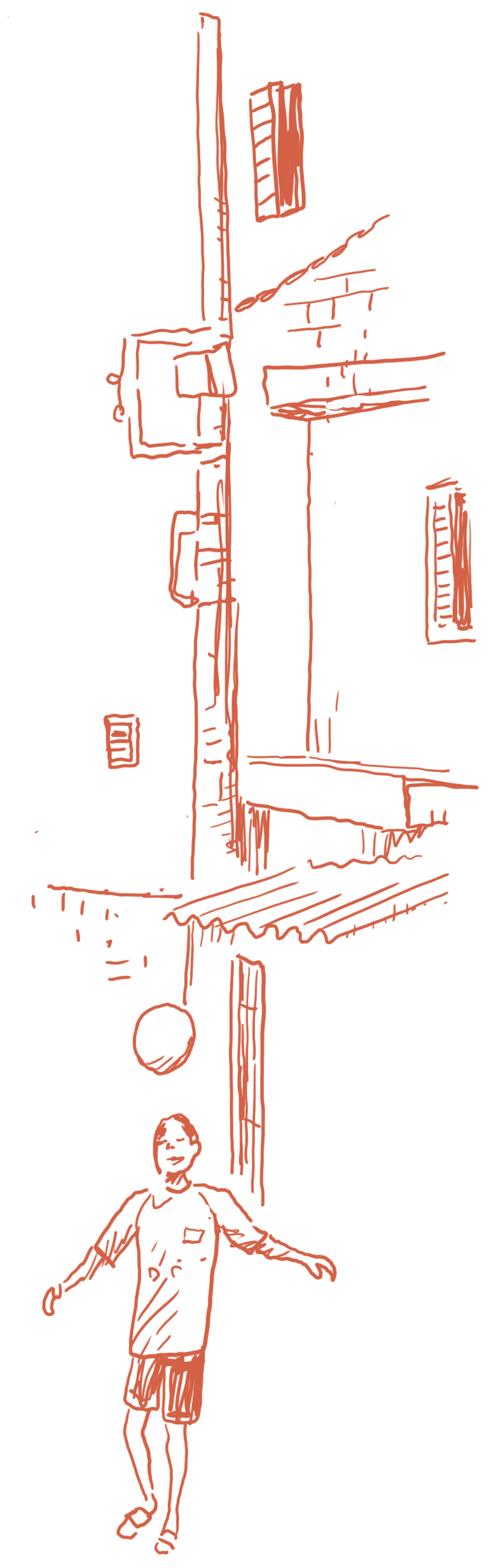 Da sua experiência, o que você gostaria de dizer além daquilo que você já falou sobre a importância da escola trabalhar articulada com o território?
Da sua experiência, o que você gostaria de dizer além daquilo que você já falou sobre a importância da escola trabalhar articulada com o território?
Eu bebi muito na fonte da educação escolar indígena. Quando eu deixei a direção da escola, me chamaram para trabalhar na primeira turma de formação de professores indígenas em Minas Gerais. Foi um aprendizado gigantesco. A gente aprendeu com os professores Maxakali, professores Krenak, professores Pataxó, cada povo é um povo. No nosso território urbano da periferia das grandes cidades, a gente trabalha com uma lógica de relações urbanas como se o simples fato de transmutar de lá para a cidade já criasse uma cultura urbana e não é assim. Trabalhar com educação escolar indígena me fez desconfiar muito desde primeiro olhar, dessa primeira impressão, porque a gente acha que conhece os territórios, mas conhece muito pouco. Muitas vezes o professor vai e volta todo dia à escola, mas ele não sabe absolutamente nada do que acontece no território onde está inserida a escola. Quando a gente começou o nosso “Programa Escola Integrada”, os professores descobriram que os alunos pulavam o lixão todo dia até chegar na escola e a escola fez uma luta para acabar com aquele lixão que se acumulava no meio da rua. Essa escola tinha mais de vinte anos, essas crianças passavam no meio do lixo há mais de 20 anos. A gente precisa olhar o território, mas também para essa cultura, de onde é que vem. Nessa escola do aglomerado da Serra, a primeira vez que teve uma política pública bacana de alimentação escolar foi quando começou a chegar frutas na escola e pela primeira vez chegou maçã, pera na alimentação escolar. As crianças pediram para a gente partir a fruta porque elas queriam levar para a mãe, elas queriam levar para o irmão que nunca tinha tido acesso. O MEC diz que a alimentação é do escolar, que não pode dar. Para o povo Maxakali, que era um povo na época com muita fome, não existia merenda escolar. Todo mundo passando fome e chega uma comida e metade da aldeia vai comer e a outra metade não vai? Quando chega alimento numa comunidade sem nada, que as pessoas estão passando fome, não cabe na cabeça de uma criança que ela vai comer e o irmão não vai, porque não é assim que a gente ensina nas nossas famílias.
Conta para a gente qual é o seu segredo para fazer política desse jeito tão leve, tão bem humorado e tão qualificado.
Eu falo que a gente tem um clube das geneticamente felizes em BH. Eu quero falar da alegria. A política durante muito tempo foi negada às mulheres, foi negada à população negra, foi negada aos analfabetos, foi negada à população empobrecida. A alegria é revolucionária. Aquelas pessoas que querem nos oprimir não suportam a risada bem dada, a gargalhada. Muitas vezes a gente desconcerta a opressão não se subjugando a ela. O que o opressor quer é tomar, além do seu corpo, o seu pensamento, o seu espírito. Essa pulsão que me move não é uma alegria ingênua, não é uma felicidade ingênua, mas ela é encorpada na luta. Como professora, eu tenho o dever de construir uma comunicação em que eu consiga falar com qualquer pessoa, com um jovem, com uma pessoa mais velha. Uma das coisas que eu mais temo é que essas pessoas que cultuam o ódio consigam se apoderar do meu espírito. O ódio vai sendo construído e se a gente não se cuida, a gente quer responder no mesmo diapasão. A gente não se deixar contaminar e criar um antídoto é um exercício diário, cotidiano. Eu penso a alegria como um antídoto a essa política do ódio, da destruição.
Notas de rodapé
1. Antigo prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), unidade da UFMG, na Rua Carangola, no bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
2. A Lei 5.692, de 11/08/1971, fixa Diretrizes e Base para o ensino de 1º e 2º grau, e dá outras providências. “Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania”.
3. Para saber mais sobre a escola plural, acesse “Escola Plural - projeto político pedagógico”, série Inovações, Cadernos de Educação Básica - MEC, 1994. Disponível em: https://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/2018-09/escola_plural_proposta_politico_pedagogica_mec_sef_brasiliasef_1994.pdf
Sobre a autora
Gina Vieira Ponte: Eu sou Gina Vieira Ponte, ceilandense, filha de Moisés e de Djanira. Quando tinha 8 anos de idade, fui abraçada pelo olhar sensível da professora Creusa e, desde então, escolhi a docência como profissão. Atuei na educação pública por mais de 30 anos, dos quais 26, exclusivamente, no chão da escola. Em 2014, criei e desenvolvi o Projeto Mulheres Inspiradoras, uma iniciativa que articula a leitura de obras literárias de autoria feminina com a escrita autoral e com o resgate de memória. Eu sou feita de coragem.
Explore edições recentes
"Como repensar as questões étnico-raciais na educação"
"Palavra de educador(a): viver para contar e contar para viver. Experiências da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa"
"Palavra como antídoto escrevendo um mundo novo"


