"Uma revista para educadoras(res) e apaixonadas(os) pela Língua Portuguesa"
Entrevista: Yaguarê Yamã
Entrevista: Yaguarê Yamã
Pelos livros, trazer a beleza da aldeia para a cidade
Pelos livros, trazer a beleza da aldeia para a cidade
texto - Marina Almeida S. Nascimento; ilustração - Criss de Paulo
10 de março de 2021
Como será o amanhã: (re) descobrir, juntos os caminhos possíveis
Com quase 30 livros publicados, o escritor e ilustrador Yaguarê Yamã fala sobre sua busca por aproximar o mundo da aldeia e o da cidade. Indígena, dos povos Maraguá e Saterê-Mawé, ele conta que cresceu ouvindo as contações de histórias dos mais velhos. Nesta entrevista, o autor fala sobre seu trabalho com os anciãos de seu povo e defende a importância de ler autores indígenas e de evitar os estereótipos ao falar sobre eles em sala de aula.
Por Marina Almeida S. Nascimento
∎ Pode contar um pouco da sua história e a vida entre a aldeia e a cidade?
Nasci no Amazonas, e só saí para fazer faculdade na cidade de São Paulo (SP). Minha infância foi uma das melhores possíveis. Eu gostava muito de ouvir histórias e isso me influenciou. Sou geógrafo, porque me interesso pelos lugares; sou artista plástico, porque desenhava na aldeia; também sou ativista indígena e professor. E tudo veio da infância. Nasci e cresci numa aldeia chamada Novo Horizonte Yãbetue’y, que fica no Paraná Urariá, um rio no município de Nova Olinda do Norte, a 130 quilômetros de Manaus. Quando aprendi português já era maiorzinho, ou seja, a influência externa veio depois. É importante vivenciar sua cultura em casa. Fui criado dentro da floresta, ouvindo contação de histórias. Infelizmente, muitos não indígenas já perderam parte de sua cultura tradicional, das histórias, da espiritualidade – o que na aldeia ainda temos bastante. E talvez seja esse o segredo para que a gente se sinta bem e saiba viver melhor nesse mundo. Saí da aldeia porque lá não tinha escola e meu pai queria que estudasse. Fomos para a cidade de Parintins (AM), que era um pouco maior, e depois para Manaus. Foi quando surgiu a oportunidade de estudar em São Paulo. Fui em 1999 fazer faculdade de geografia na Universidade de Santo Amaro (Unisa) e vivi lá por seis anos. Nesse período, eu me juntei a algumas lideranças indígenas, que também estudavam na cidade, e participei de palestras sobre meio ambiente e temática indígena. Era muito chamado por escolas para falar com o público infantojuvenil, uma forma de levar às crianças o que nós temos de melhor. Quando conversamos, a cultura indígena que elas descobrem não é aquela estereotipada que ainda vemos por aí.
∎ E como é viver entre esses dois mundos, o indígena, da floresta, e o não indígena, urbano?
São mundos totalmente diferentes um do outro, mas acredito que, como seres humanos, precisamos conhecer os dois. Quem conhece só o mundo da cidade se perde, e quem conhece só o mundo da floresta também não aprende muitas coisas importantes. A falta de espiritualidade que vemos na cidade é o que mais temos no interior, na aldeia, já o conhecimento da cidade sobre o mundo moderno, não encontramos na aldeia. Precisamos dividir o conhecimento e aprender juntos para poder viver. A convivência também combate os preconceitos, que têm origem no desconhecimento. Agradeço muito às pessoas que me deram essa oportunidade de conhecer o mundo da cidade.
∎ Como se descobriu escritor? O que o inspira a escrever?
O mundo indígena é de contação de histórias e, quando a gente sai da aldeia, vê que é necessário trazer a floresta para o mundo urbano, para tirar esse ódio e preconceito, mostrar nossa cultura, nossas histórias. Foi isso que me motivou a ser escritor: queria mostrar as belezas da aldeia para a cidade, mas de que maneira? Por meio dos livros. Escrevendo também contribuo com o movimento indígena.
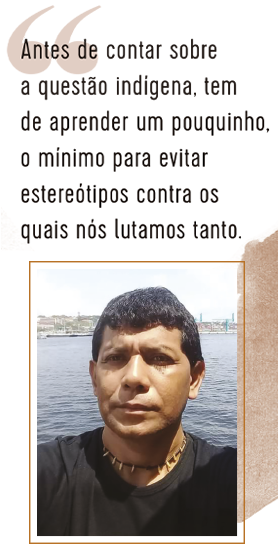 ∎ Que autores você lê e influenciaram seu trabalho? E quanto às histórias da tradição indígena Maraguá: elas chegaram até você por meio da oralidade, pela voz dos seus familiares?
∎ Que autores você lê e influenciaram seu trabalho? E quanto às histórias da tradição indígena Maraguá: elas chegaram até você por meio da oralidade, pela voz dos seus familiares?
Leio muito, a leitura sempre me fascinou. Gosto de literatura fantástica, mas não acho que é porque li bastante Edgar Alan Poe, mas porque ouvi muita história de fantasma quando eu era criança. Os Maraguá são conhecidos como o povo das histórias de assombração. Em roda, durante a noite, contamos muitas dessas histórias, que têm a floresta e suas entidades como cenário. Elas falam de um certo medo de andar pela floresta. Isso mexe muito comigo e gosto de passar para os leitores, por isso a literatura fantástica é o carro-chefe do meu trabalho. Também temos as histórias de origem e aquelas que têm um fundo moral, as fábulas. Mas não podemos deturpá-las para transformar em algo de interesse comercial apenas. Queremos que as pessoas leiam nosso trabalho, mas precisamos olhar para a nossa espiritualidade, ver o que realmente elas precisam, não de uma maneira financeira, mas espiritual. Pensar: o que nós temos para contribuir?
∎ Em alguns de seus livros de contos e mitos tradicionais indígenas, como em Murũgawa, você cita o nome de pessoas, anciãos da comunidade, que lhe transmitiram aquelas histórias. Como foi esse trabalho de ouvi-las para depois transformar esses registros em textos? As histórias foram contadas na língua Maraguá e traduzidas por você?
Eu me reuni com eles e disse que precisávamos repassar nossos conhecimentos. E o que temos de melhor são nossas histórias. Falei: “Vamos fazer um livro? Vocês contam, eu gravo, passo para texto e coloco seus nomes, porque as histórias são suas”. Esse é um livro do povo Maraguá. Juntamos os que eu considero, atualmente, os melhores contadores de história e repassamos suas contações para a escrita. A maioria deles contou a história na sua língua e foi preciso fazer a tradução. Mesmo aqueles que falam português, às vezes têm dificuldade de se expressar e era preciso ajudar a procurar a melhor palavra para a tradução. Assim nasceu Murũgawa, que significa origem. Queria dar esse nome porque é a origem de tudo, da história, do nativismo. A editora gostou, fez um pagamento e a gente dividiu. Na época eu morava na cidade e mandei uma mensagem para eles. Dali uma semana, todo mundo chegou de canoa vindo da aldeia, ansiosos para saber: cadê o livro e cadê o dinheiro? Foi uma alegria muito grande. Não pelo valor em si, que era simbólico, mas pelo reconhecimento.
∎ Que cuidados você recomenda que o estudante tenha ao ouvir a história de uma pessoa mais velha para recontá-la por meio da escrita?
É difícil ir para uma comunidade tradicional ou ouvir a contação de histórias de um velho sem primeiro se identificar com essa pessoa ou sua tradição. Ir para esses lugares com um certo preconceito, atrapalha mais do que ajuda. Para ouvir essas histórias, a gente tem que se vestir de novo. Tirar toda essa pré-ideia que temos das coisas e aprender diretamente com eles. Quando vamos de espírito aberto, aprendemos, e é muito prazeroso, porque parece que aquilo vive dentro de nós, passamos a nos considerar alguém de lá e aí conseguimos fazer um trabalho lindo. É o que falta para a maioria dos pesquisadores que vem para cá. É preciso se despir e renascer para poder entender a beleza, a essência, o que é o importante.
∎ Como se aproximar da cultura retratada num determinado livro e não reproduzir estereótipos sobre os indígenas brasileiros?
Ontem eu estava assistindo uma contação de histórias na internet do meu livro A origem do beija-flor: Guanãby Murũ-Gáwa, a história é linda e a moça contou de maneira sensacional, mas percebi que ela carrega um estereótipo muito forte dentro de si. Antes de contar sobre a questão indígena, tem de aprender um pouquinho, o mínimo para evitar estereótipos contra os quais nós lutamos tanto. Ainda que ela tenha contado com toda a maestria a história, faltou se despir do preconceito. Por exemplo, ela falou em tribos, que é um dos conceitos que mais temos combatido no Brasil. Como é que uma pessoa vai contar a história de um povo e fala em tribo, em índio? Com nossos livros, queremos justamente combater os estereótipos. Isso acaba fazendo o trabalho do anti-indígena, aquela pessoa que quer manter uma imagem ruim sobre os indígenas e que, infelizmente, influencia muita gente.
 ∎ Você poderia comentar sobre a importância do trabalho com autoras e autores indígenas dentro da escola? Que cuidados os professores devem ter ao apresentar livros de autores indígenas para seus alunos?
∎ Você poderia comentar sobre a importância do trabalho com autoras e autores indígenas dentro da escola? Que cuidados os professores devem ter ao apresentar livros de autores indígenas para seus alunos?
É necessário trazer tanto a língua quanto a cultura indígena para o povo brasileiro conhecer a si mesmo. O brasileiro não valoriza o Brasil, porque ainda não se descobriu, não reconhece sua essência indígena. Lutamos para isso. Uma coisa importante é não falar de cultura indígena como se só fosse uma coisa única. As pessoas não têm ideia de que esse é um universo imenso. Cada um dos mais de 300 povos é um universo e um dos maiores erros é colocar tudo num caldeirão, como se fosse a mesma coisa. Ao trabalhar as culturas indígenas na sala de aula precisa ter essa consciência. Primeiro, eu preciso saber sobre que povo estou falando, qual é sua cultura. Meu amigo [o escritor] Daniel Munduruku, quando perguntam se ele é índio, responde: “Não sou índio, sou Munduruku”. Aí a pessoa entende que ele tem sua tradição, sua identidade com um povo. Assim, também é comigo, Yaguarê. No movimento de literatura indígena, cada um escreve sobre o que se acha capacitado, sobre como entende a vida a partir de sua própria cultura. Eu, por exemplo, não me sinto confortável para falar sobre a cultura Parintintim, porque não conheço o suficiente. Se for até lá e aprender, quem sabe eu poderia escrever, mas pedindo licença para fazer isso.
∎ Seu trabalho como escritor indígena é também o de fazer uma tradução entre línguas e culturas. Além disso, você está produzindo um dicionário Maraguá-Português. Pode falar um pouco sobre sua relação com o português, o Maraguá e as línguas indígenas?
Tinha 7 ou 8 anos, quando aprendi português. Até então só falava as línguas indígenas. Na nossa aldeia, tem o pessoal que fala saterê, o que fala nyēēgatú, maraguá, é uma salada. Muitas vezes na conversa, um fala saterê, o outro responde em maraguá, mas a gente reconhece a língua do outro e se entende. Terminamos dois dicionários: o de nyēēgatú, que foi lançado em agosto de 2020 [em colaboração com Elias Yaguakãg, Egídia Reis e Mário José, pela editora Cintra]. Esse é um dicionário de leitura, funciona como um curso. Se você quiser aprender, é a coisa mais fácil. Nyēēgatú é a língua geral do Amazonas, herdeira do tupi e ainda falada pela população, é uma língua linda e está havendo certa procura por conhecê-la, apesar do descaso do poder público. O brasileiro não percebe, mas já fala um pouco. Muitas palavras que usamos vem do nyēēgatú ou do tupi, além de outras línguas indígenas. Muitas outras palavras têm origem em línguas africanas, ou seja, nosso idioma é uma mistura de tudo isso. O segundo dicionário que está para ser lançado é o de maraguá, uma língua que esteve em vias de extinção. Quando fomos organizar a língua para inseri-la nas escolas, havia apenas seis velhos falantes – e desses, três já morreram. Trabalhamos com eles, pesquisando, fazendo análise, comparando, um trabalho de anos, mas, hoje, nas nossas escolas indígenas as crianças estão aprendendo maraguá e o que era uma língua fadada à extinção é falada nas aldeias, nas casas. Hoje, estamos na luta pela demarcação da área do povo Maraguá. Enquanto isso, assistimos a muitos conflitos na região entre traficantes e a polícia, bandidos ameaçando os indígenas. Só vai melhorar realmente quando tiver a demarcação das terras.
∎ Você mesmo ilustra muitos de seus livros com imagens ou grafismos tradicionais de seu povo. Pode contar um pouco sobre a importância desses grafismos para os Maraguá?
O grafismo não é um desenho comum, são escritas próprias de cada povo, como os hieróglifos ou os ideogramas, em que cada grupo de traços representa algo. O desenho não é simplesmente uma imagem, é o símbolo que é mais importante. Tudo tem um significado, se a pintura é facial ou corporal, não é simplesmente se pintar à toa, está ligada à religiosidade, ou ao que é festivo. Atuo muito com grafismo. Aprendi a desenhar no terreiro da aldeia usando uma espinha de peixe, a terra é o nosso papel, nosso caderno. Com o tempo, fui me especializando, mas mantenho o que aprendi quando era criança. Uso também o desenho realista, mas prefiro o grafismo. E gosto de explicar o que significa. Tenho para mim que estou trazendo o que nós temos de belo para que as pessoas conheçam, aprendam o que somos.
∎ Com o projeto “De volta às origens”, você busca conscientizar a população de seu município sobre sua identidade indígena. Pode contar como funciona o projeto? E por que é importante que as pessoas se reconheçam indígenas?
Aqui no Amazonas, acredito que cerca de 70% da população tem características indígenas, mas segundo o IBGE é apenas 4,8%. Para onde vai o restante? Nesse trabalho, ao nos ouvir, as pessoas começam a se olhar e se identificar. A gente sabe que o preconceito, o racismo dos militares, e mesmo de antes, fez com que tivéssemos vergonha de ser indígena. Mas só quando conhecemos nossa identidade, podemos valorizar e lutar. Estudei geopolítica e sei que quanto maior a quantidade de um grupo, maior seu poder. Isso foi usado contra os povos indígenas. É a falta dessa identidade que faz com que a gente se torne minoria hoje. E não é verdade, a maioria somos nós, é o negro, é o indígena. E não é nem uma questão de aparência, mas de causa, amor, identificação. Comecei a organizar esse projeto junto com meus amigos e aliados aqui no Amazonas. Para se ter uma ideia, Nova Olinda do Norte, a cidade em que moro, era um dos últimos lugares em quantidade de população indígena até 2005, hoje somos o 5º colocado no Estado. O que aconteceu, alguém virou índio? Não, ninguém vira índio, mas as pessoas começaram a se autoidentificar, a se valorizar. Nosso trabalho fala sobre esse reconhecimento ser necessário. As pessoas começam a entender essa importância, procurar sua origem. Cada um de nós tem a sua e temos de valorizá-la, claro que sem preconceito e sem racismo com os demais, sem achar que somos melhores, jamais. Nosso trabalho é fazer essa conversa, depois ajudamos a levar a documentação da pessoa para a Funai e fazer uma procuração com seu histórico, para conseguir a comprovação de que são indígenas.

Explore edições recentes
"Centenas de povos indígenas e suas línguas habitam, cultivam e preservam o território multicultural do nosso país."
"Como repensar as questões étnico-raciais na educação"
"Palavra de educador(a): viver para contar e contar para viver. Experiências da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa"


